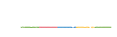Senhora de si
Daniele Marzano e Iêva Tatiana

 A história de Maria Vieira de Assis, de 78 anos, lembra a das nossas mães e/ou avós, que precisaram suportar o machismo e a ignorância em uma época em que muito se falava em “sexo frágil”, embora as mulheres fossem os verdadeiros pilares das famílias. Ela teve uma infância pobre e enfrentou diversas dificuldades até a vida adulta. E, hoje, dá e arranca boas risadas ao se recordar dos principais acontecimentos vividos em sua bela história. Com muita sinceridade e bom humor, dona Maria relembra nesta entrevista os principais episódios da vida dela, desde que saiu de Córrego do Mota, arraial próximo à cidade de Passabém, na região Central de Minas Gerais; os 36 anos em que viveu no bairro das Indústrias, na região do Barreiro, em Belo Horizonte; outros sete no bairro Farofa, em São Joaquim de Bicas, na região metropolitana; e, por fim, a ida para Betim, na mesma região, há 14 anos. Mãe de Geni, de 55 anos, e de Geraldo, de 51, ela tem quatro netas, um bisneto e muitos casos – divertidos e sérios – para contar. Ativa e sempre bem-disposta, dona Maria revela o sonho de conhecer Portugal para poder conversar com os moradores de lá – já que, nos outros países em que esteve, a comunicação foi dificultada em função do idioma – e reafirma a gratidão que sente por tudo o que conquistou com muito trabalho. Em uma edição dedicada às mulheres, essa personagem simboliza com primor a luta e a força do gênero.
A história de Maria Vieira de Assis, de 78 anos, lembra a das nossas mães e/ou avós, que precisaram suportar o machismo e a ignorância em uma época em que muito se falava em “sexo frágil”, embora as mulheres fossem os verdadeiros pilares das famílias. Ela teve uma infância pobre e enfrentou diversas dificuldades até a vida adulta. E, hoje, dá e arranca boas risadas ao se recordar dos principais acontecimentos vividos em sua bela história. Com muita sinceridade e bom humor, dona Maria relembra nesta entrevista os principais episódios da vida dela, desde que saiu de Córrego do Mota, arraial próximo à cidade de Passabém, na região Central de Minas Gerais; os 36 anos em que viveu no bairro das Indústrias, na região do Barreiro, em Belo Horizonte; outros sete no bairro Farofa, em São Joaquim de Bicas, na região metropolitana; e, por fim, a ida para Betim, na mesma região, há 14 anos. Mãe de Geni, de 55 anos, e de Geraldo, de 51, ela tem quatro netas, um bisneto e muitos casos – divertidos e sérios – para contar. Ativa e sempre bem-disposta, dona Maria revela o sonho de conhecer Portugal para poder conversar com os moradores de lá – já que, nos outros países em que esteve, a comunicação foi dificultada em função do idioma – e reafirma a gratidão que sente por tudo o que conquistou com muito trabalho. Em uma edição dedicada às mulheres, essa personagem simboliza com primor a luta e a força do gênero.
A senhora não para nunca?
Meu filho fala que eu sou secretária da secretária lá em casa. Eu não consigo ficar à toa. Levanto de manhã, faço o café, lavo a cafeteira e a leiteira e já deixo tudo limpinho. Depois que o pessoal toma o café e sai, eu vou lá e torno a lavar as vasilhas deles. A secretária chega às 8h20 e vai embora às 15h. No restante do dia, eu faço as coisas.
De quem a senhora puxou essa disposição para o trabalho?
Puxei do papai. A mamãe trabalhava, mas era mais calma, paciente igual a uma tartaruga, não gostava muito de fazer as coisas. O papai era fora de série: ele se levantava às 6h e ia para o mato capinar. Na hora em que o chamavam para almoçar, ele vinha, almoçava, deitava em um banco na varanda para descansar um pouco e voltava para terminar o trabalho. Fazia o tanto que precisava para o dia. Se faltasse um pedacinho, ele mesmo achava ruim. Tinha a meta certa.
A senhora respeitava muito o seu pai?
Era só ele me olhar, não precisava nem chamar minha atenção. Às vezes, a gente estava na cozinha à noite, começava a brincar e a rir, e ele só fazia assim na cama: “Ham-ham”. Era a mesma coisa que fechar a garganta de todo mundo, ninguém conversava mais. A mamãe falava: “Seu pai ‘rapou a guela’”. Calava todo mundo. Nós éramos seis irmãs – eu sou a caçula –, uma se casou muito cedo, mas as outras ficaram mais tempo em casa. Elas iam lá para fora para conversar, e eu ia dormir. Não podia ir junto porque as conversas não tinham nada a ver comigo. Elas ficavam até mais tarde; depois, chegavam todas caladinhas e lavavam os pés de fininho. A gente não tinha como tomar banho todos os dias, porque não havia chuveiro, era só água na bacia. Eu tomava banho somente aos sábados. De bacia, mas apenas no sábado.
 Na sua juventude, havia muito preconceito contra as mulheres?
Na sua juventude, havia muito preconceito contra as mulheres?
Sim, porque eu era considerada uma doméstica. Às vezes, eu ia fazer uma ficha e, quando me perguntavam qual era minha profissão, eu falava que era “do lar”. Eles respondiam: “É doméstica, né?!”. Aí, não tinha jeito. Eu não cheguei a ter nenhum diploma na minha vida, porque lá na minha terra as pessoas só estudavam da primeira à quarta série, mas nem isso eu fiz, porque saí na terceira. Eu tinha que andar 12 km para ir e voltar da escola todos os dias, mesmo na chuva e no frio. Como meus pais eram muito fraquinhos de situação – a gente tinha um terreno, mas papai era lavrador, plantava para comer –, sobrava pouco dinheiro. Mamãe comprava dessas flanelas que hoje usam para limpar carro e fazia paletós para a gente ir para a escola, e íamos com os pés no chão. Não tínhamos sandálias nem chinelos de dedo, vim saber o que era isso em Belo Horizonte. Íamos descalças para a escola e já éramos acostumadas com isso. Nosso apelido era “pé-descalço”. Quando eu pus meu primeiro chinelinho nos pés, tinha 12 anos, e ele foi comprado, já usado, de uma coleguinha minha. Ficou pequeno para ela. Aí, a mãe dela vendeu para a minha, porque eu tinha os pés menores. A gente se acostuma tanto com certas coisas na vida que, às vezes, hoje em dia, eu saio com uma roupa, e meu filho me pergunta se eu só tenho essa. Falo com ele que não me incomodo com essas coisas. Hoje, as crianças já nascem calçadas com tênis caros.
 A senhora sempre se virou, sem depender do marido?
A senhora sempre se virou, sem depender do marido?
Sim. Eu que o ajudava. As coisas de banco eu tinha que fazer, porque ele não sabia. Ele nem assinava direito. Uma vez, eu escrevi uma carta para o serviço social da Mannesmann – onde ele trabalhou durantes seis anos – porque ele havia jogado todas as panelas no chão. Aí, uma funcionária o chamou e falou assim: “Escuta aqui, José Eugênio, como o senhor é dentro de casa com a sua mulher?”. Ele disse que era muito bom e tranquilo. Ela retrucou: “Pela carta que a sua esposa escreveu, não é, não”. Ele não tinha visto a carta, eu mandei por um colega dele. Naquela época, nem correio existia direito. A moça do serviço social respondeu: “Ela está alegando que o senhor bebe e age com ignorância, joga a comida fora, quebra as vasilhas”. Ele ficou caladinho. Quando chegou em casa, disse que eu não precisava ter feito aquilo e que eu podia arrumar minha trouxa e ir embora com os meus filhos. Eu falei que não ia, afinal, o lote em que vivíamos havia sido comprado com o dinheiro do pré-natal que eu fiz da Geni [na época, sempre que a mulher engravidava, recebia uma ajuda do governo]. Ele ficou sem graça e foi conversar de novo com a moça do serviço social da empresa. Ela falou para ele: “Se alguém tiver que sair de casa, é o senhor, porque sua mulher é muito honesta e está aguentando isso por conta dos filhos”. Ele voltou chorando, dizendo que não ia nos deixar. Depois disso, Deus ajudou que a gente conseguiu comprar uma carreta, e ele foi trabalhar na estrada. Foi quando conseguimos viver mais tranquilamente.
O senhor José Eugênio morreu em um acidente em maio de 1993. Como ficaram as coisas depois disso?
Em agosto do mesmo ano, fui a uma festa em Passabém [região Central de Minas Gerais] que acontece anualmente e à qual eu sempre fui, mesmo com ele vivo – e continuo indo, porque ela é muito bonita, de igreja, aquela bagunça toda. Chegando lá, um sobrinho meu, o José Geraldo, me tirou para dançar. Na hora em que paramos, aproximou-se de mim uma mulher, que nunca tinha feito isso antes, dizendo: “Você não sentiu a morte do seu marido, está até dançando”. Eu respondi: “Mas foi ele que morreu, não fui eu”. Eu sinto a morte dele, mas me adaptei a viver sozinha. Meu filho me leva para viajar para todo canto, tenho a minha liberdade e outra vida agora. Minhas condições melhoraram totalmente, porque nós vivíamos em uma casa muito simplesinha, muito humilde. Depois que meu marido morreu, meu filho falou: “Mãe, vou tirar a senhora dessa casa e colocá-la em uma melhor”.
A senhora nasceu em Córrego do Mota e, hoje, conhece várias partes do mundo...
Já vi até a Aurora Boreal, uma nuvem que dança no céu. No ano passado, passei meu aniversário na Torre Eiffel [França]; neste ano, na Turquia. No ano que vem, vamos para Portugal, se Deus quiser. Aí, acabou, não preciso ir a lugar nenhum mais. A Portugal eu tenho vontade de ir, porque o povo fala quase igual a gente, e dá para se comunicar. Nos outros lugares, a gente não consegue e fica mais mudo do que tudo.
 A senhora se casou para sair de casa. Arrepende-se disso?
A senhora se casou para sair de casa. Arrepende-se disso?
Não é exatamente me arrepender. A gente teve que começar do nada para ter alguma coisa. Se eu tivesse me casado com uma pessoa com uma condição um tiquinho melhor, eu podia ter trabalhado menos. Mas, graças a Deus, eu estou bem, estou ótima. Estou com 78 anos e pretendo chegar aos 98 numa boa.
A senhora tinha medo do seu marido?
Casei-me com 22 anos e fiquei viúva aos 51. Nunca tive medo do meu marido. Uma vez, ele veio para bater em mim, eu peguei o cabo de uma faca que estava em cima do fogão à lenha, e ele pensou que era a faca. Depois disso, teve uma época em que ele estava saindo com um conhecido e arrumando uma mulherada danada. Certa noite, quando chegou em casa e entrou no quarto, falei que ele não iria dormir comigo. Ele falou que a cama era dele. Então, tirei um revólver de debaixo do travesseiro, e ele foi embora. Eu atiro que é uma beleza, tenho uma pontaria que você nem imagina.
O que a senhora tem a dizer sobre seu marido?
Em relação à comida, não tenho nada a reclamar dele. Ele ia ao supermercado, comprava um saco de 60 kg de arroz, um fardo de feijão, com seis pacotes, batata velha e carne. Era meio boi de carne. Se eu quisesse comer verdura, eu tinha que comprar. Com o tempo, fui fazendo igual a um balão, enchendo de tanto comer carnes de boi e de porco. Quando ele faleceu, meu colesterol estava altíssimo. Meu filho [que é vegano], me disse que eu não precisava tomar aquele tanto de coisa que o médico me passou, era só eu cortar a carne. Fiz isso, e ficou tudo normal.
Seu marido era bom para a senhora?
Ele ajudava na parte de alimentação, mas, no resto, não. Sempre que eu falava com ele que estávamos precisando de alguma coisa, como roupas para as crianças, ele me dizia: “Você que se vire”. Aí, eu saía comprando. Eu costurava muito. A minha casa foi toda abastecida com coisas que eu comprei: estante, sofá, geladeira, armário, tudo. Tinha dias que eu me sentava na máquina às 10h e me levantava à meia-noite. Eu tinha que costurar. Não era para ganhar meu dinheiro, era para sustentar meus filhos. Quando eu me mudei para o bairro das Indústrias [em Contagem, na região metropolitana de BH], a Geni estava com 6 meses. Três anos depois, quando o Geraldo nasceu, meu marido estava trabalhando na Mannesmann, em melhores condições. Mesmo assim, eu lavava roupas para dois rapazes, arrumava a casa para um casal que morava lá no bairro e ainda costurava diariamente.
Como foi a sua história na política?
Eu já me envolvi com política, nos tempos em que morei no bairro das Indústrias. Eu era uma liderança na região. Quem levou água para o bairro fomos eu, o padre Paulo e o Álvaro Antônio [pai do atual ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio]. Antes, eu comprava a água que a Copasa vendia para a gente em um caminhão. No dia da inauguração do abastecimento no bairro, eu estava em Passabém. Tinha uma mulher que se sentia a dona do bairro, mas o Álvaro Antônio procurou por mim e lembrou que, quando ele ia à Câmara Municipal e à Copasa, a única que ia com ele era eu. Aí, ela ficou sem graça. Eu fiz tudo para mim e para as outras pessoas, não foi para ser elogiada, mas porque eu precisava. Por isso, não quis estar lá naquele dia. Foi tudo em benefício próprio e dos outros, porque a gente sofria demais. Eu me levantava às 5h para carregar água na cabeça e encher o galão.

A senhora sempre batalhou muito, não é mesmo?
Eu saía com meus dois filhos de madrugada, às 4h, pegava o primeiro ônibus e ia para o Hospital da Baleia [no bairro Saudade, em Belo Horizonte], que era o único que atendia crianças naquela época. Ficava lá o dia inteiro para eles serem consultados. Hoje em dia, você põe o menino no carro, vai ali, e o médico atende. Tudo é uma facilidade. Quando a mulher engravida, o quarto já está arrumadinho para a criança, já tem o carrinho, o cesto, o berço. Agora, tem chá de revelação, chá de bebê, “mesversário”. Mas o mundo tem que evoluir mesmo, senão não tem jeito. Está tudo avançado. Antes, não existia nem telefonia fixa nem celular.
Que conselho a senhora daria às mulheres de hoje?
Resistência. É a única coisa que a mulher precisa ter, porque, se não tiver,...